São Paulo tem fama de ser o lugar mais nordestino do Brasil fora do Nordeste. Há controvérsias sobre a máxima, mas os números justificam: cerca de 5 milhões de migrantes chegaram ao estado, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), desde que a migração começou.
Esse movimento foi impulsionado pelo processo de industrialização paulista na segunda metade do século XX. Sobre os homens, conta-se que fugiam das condições climáticas e, com o suor do trabalho, lubrificaram as engrenagens da máquina paulistana. No entanto, essa parte da história é um pequeno contorno desenhado pelo imaginário sudestino (cuja ambição não dá conta das peculiaridades de nove estados brasileiros). E as mulheres que chegaram à maior capital da América Latina, que hoje completa 467 anos: onde estão e que legado deixaram? Podemos dizer que elas seguem fazendo o mesmo: construindo a cidade.
“Se a gente traçar uma trajetória, sempre vai encontrá-las na política, seja nas associações de bairro ou na assembleia”, explica a socióloga Lidiane Maciel, pesquisadora dos processos migratórios entre Nordeste e São Paulo. De acordo com ela, o trabalho desempenhado por essas mulheres foi fundamental para a ordem da cidade. “Mas o Nordeste [para o paulistano] não pode assumir essa identidade da cidade, porque ele é considerado pouco desenvolvido. É em São Paulo que o migrante se torna nordestino”, explica Lidiane, referindo-se aos estereótipos propagados.
No entanto, pouco se sabe sobre as condições de chegada das mulheres à cidade. Segundo Francis Bezerra, autora de A Força do Nordeste, elas geralmente chegavam no encalço dos maridos e, sem registro, ficavam conhecidas como “a esposa de João” ou “a mulher de Pedro”.
Entre os que comemoram o aniversário da capital paulista, destacamos as histórias das nordestinas que não puderam ser preenchidas nem no censo populacional ou na literatura. Das lutas coletivas aos projetos de lei, das conquistas na ciência às cadeiras dos escritórios espelhados; quais as ambições daquelas que estão chegando e o que construíram aquelas que chegaram para ficar?
‘São Paulo nos deve muito’
Quando desembarcou na Estação da Luz em agosto de 1970, trazendo consigo os três filhos, a jornalista maranhense Francis Bezerra, de 75 anos, fugia de um casamento violento. Cinco décadas após sua chegada, Francis é a fundadora da ANESP (Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo).
Segundo as palavras da maranhense, sua trajetória em Bacabal, cidade onde nasceu, só foi encerrada porque “o tal felizes para sempre só pode durar até você ser espancada ou estuprada”. Embora esperasse ser recebida pela modernidade paulistana, com a qual trilharia um caminho mais independente, a vida da nordestina na cidade também ficou marcada pela violência de gênero e o preconceito de origem. “Fui parar nesse escritório, cujo chefe era um tcheco que assediava as funcionárias. Era a política do ‘dá ou desce’. Ali, começou a minha guerra”.
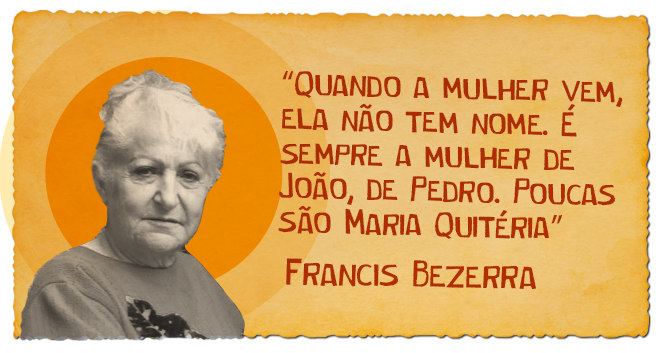
Da longa lista de batalhas travadas pela maranhense, está a fundação da ANESP, em 1984, a presidência do Copane (Conselho para Desenvolvimento da Comunidade Nordestina no Estado de São Paulo), a ativa participação em projetos de lei contra discriminação de origem, a criação da medalha Luiz Gonzaga e da exposição itinerante Memória Cultural Nordestina, levada ao Programa Escola da Família e aos principais parques da cidade para homenagear nomes como Rachel de Queiroz, Zumbi dos Palmares e Tobias Barreto.
“Durante minha luta, descobri que a maioria dos filhos de nordestinos tinha vergonha de dizer de onde vieram porque na escola eram chamados de ‘severininho’, ‘cabeção’. Sou muito grata à cidade, mas São Paulo também nos deve muito. Nós temos grandes homens e grandes mulheres na construção dessa cidade. Tá na hora de sacudir a jabuticabeira e começar a respeitar nossa comunidade.”

‘Só cheguei aqui porque alguém abriu caminho’
Em menos de um ano morando em São Paulo, a biomédica Jaqueline Goes de Jesus, de 31 anos, protagonizou um dos principais eventos do século. A soteropolitana foi responsável por coordenar a equipe de pesquisa que, em menos de 48 horas, sequenciou o primeiro genoma do coronavírus no Brasil. “É como se eu tivesse furado um buraco e aberto um caminho para que mulheres e homens negros pudessem ser reconhecidos pelo trabalho que vêm desenvolvendo”, define a cientista.
Aprovada no pós-doutorado do laboratório Ester Sabino, da USP (Universidade de São Paulo), Jaqueline chegou à cidade em julho de 2019. Entre a seleção acadêmica e a mudança de Salvador (BA) para a capital paulista, ela teve apenas 20 dias para se organizar. Embora um doutorado na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, a tivesse preparado para lidar com a saudade da família, as exigências da pandemia foram diferentes de tudo o que ela havia vivido. “Saber que estou a duas horas e meia de distância e não poder encontrá-los foi algo que pesou”, desabafa a cientista.
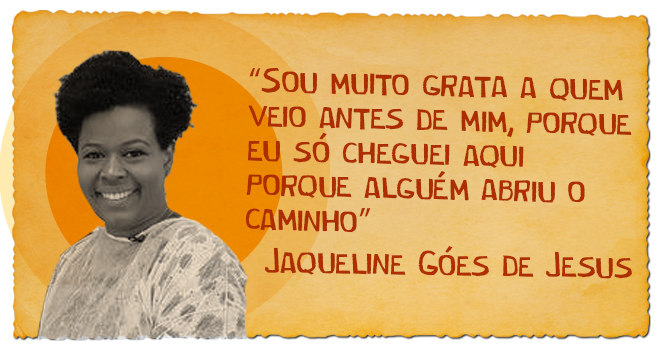
Durante os primeiros meses de pandemia, Jaqueline conta que fazia todas as refeições no laboratório, “do café da manhã ao lanchinho”, e só recarregava as baterias em casa com algumas poucas horas de sono. Os principais momentos de desânimo, no entanto, não vieram pelo cansaço físico, mas pela carga de desinformação testemunhada. “Tem dez anos que eu estudo e me especializo para trazer respostas para a sociedade. Aí vem uma pessoa que nunca entrou em uma graduação da área da saúde e quer propagar informações incorretas”.
Já a relação com São Paulo, segundo o relato da pesquisadora, sempre foi de brilho nos olhos. Aos 31 anos, Jaqueline se reconhece como parte de uma geração com oportunidades de migrar em condições sociais e acadêmicas bem diferentes da anterior. “É inegável que quem construiu a São Paulo que temos aqui foram os nordestinos, que chegaram para trabalhar e fazem com que a cidade funcione. Tudo isso contribui para que hoje eu possa encontrar um ambiente mais favorável para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Sou muito grata a quem veio antes de mim. Só cheguei aqui porque alguém abriu caminho.”
‘Em quantas mulheres tive que me desdobrar?’
“São Paulo é aquela coisa: você leva o ouro, mas deixa o couro”. É desta forma que a filósofa, poeta e educadora cearense Maria Vilani, de 70 anos, resume sua experiência na cidade. Ela, que deixou Fortaleza (CE) aos 23, só concluiu o Ensino Médio com 40 anos e cinco filhos. Depois de fincar raízes no terceiro bairro mais populoso da capital paulista, o Grajaú, acabou fundando, nos anos 1990, o CapsArtes (Centro de Arte e Promoção Social).
Autodidata, Vilani deu início a uma série de realizações acadêmicas após a formatura no segundo grau: se especializou em Literatura, Semiótica, Filosofia Clínica e Pedagogia; e também publicou seis livros, o primeiro de contos e o restante de poesia. O CapsArtes se tornou um celeiro de artistas, de onde saiu toda uma geração de grafiteiros, escritores e cantores como o rapper Criolo — um dos mais reverenciados da atualidade — de quem dona Maria é mãe e ex-colega de classe.

“Foi uma gestação não planejada, mas é um filho muito querido”, conta ela, não se referindo ao artista, mas ao centro cultural. No fim dos anos 1980, o embrião do CapsArtes era uma espécie de creche para cerca de 30 crianças, improvisada por Maria Vilani e a alfabetizadora Silvanda Elisa Pereira, para que as mães do Grajaú — em sua maioria, migrantes nordestinas — tivessem onde deixar os filhos.
Dali, saíram as primeiras feiras e oficinas de artesanato da região e o centro cultural, oficialmente nascido em agosto de 1990. Sobre as décadas seguintes, a fundadora do projeto diz que “mal respirava”. Graduava-se em filosofia na parte da manhã, cuidava da casa e da família à tarde, lecionava à noite e coordenava seus projetos sociais durante os fins de semana.
“Em quantas mulheres tive que me desdobrar?”, questiona. “Olho para trás e vejo que fiz exatamente o que o sistema queria: fui na contramão da minha saúde”, desabafa Maria. “Não sinto orgulho. Sinto dó. Quando fazia faculdade, eram três ônibus para ir e três para voltar, tudo porque a mocinha aqui queria estudar filosofia. Eu perdi sono, lembro que queria estudar e não podia. Como é que se abandona intelectualmente um ser humano?”, pergunta a filósofa.
Apesar da dureza com que enxerga a própria trajetória, Maria Vilani diz que o amor por São Paulo é realmente complexo. “No que se trata do afeto, fui uma pessoa muito feliz. Quando é para te socorrer porque você não tem onde cair viva, existem muitos. Mas esse afeto esfria quando você começa a galgar posições”, diz. Quando, carinhosamente, frisa que o bairro Grajaú é “seu país”, a cearense se define como fruto da efervescência entre Sudeste e Nordeste. “A única coisa que fiz de diferente na vida foi estar junto dessa gente toda para aprender”.
‘Não é todo mundo que veio da Europa’
No linguajar paulistano, se uma pessoa diz que algo é “coisa de baiano” ou que é resultado de uma “baianada”, é sinal de que saiu, no mínimo, mal feito. E quando foi, ou por quê, que ser da Bahia virou sinônimo de inadequação? Para Jandaraci Araújo, de 48 anos, baiana de Salvador e ex-diretora executiva do Banco do Povo de São Paulo — a primeira mulher a ocupar o cargo —, o estereótipo vem da falta de reconhecimento da contribuição nordestina para a construção da cidade.
“A gente fala dos japoneses e dos italianos, mas para todos os imigrantes chegarem, teve muita baianada boa. Se você atribui o negativo a uma origem, você está sendo xenófobo, e a cidade é maior do que isso”, afirma. No que diz respeito à história da migração brasileira, o estado paulista recebeu o maior contingente de pessoas que migraram da Bahia para o Sudeste. Segundo o Censo de 2010, o último a retratar este deslocamento, cerca de 1,7 milhão de baianos vivem em São Paulo.
Apesar de considerar a megalópole paulistana como a “cidade que cabe todo mundo”, Jandaraci precisou romper estereótipos ao chegar como uma executiva bem-sucedida. “As pessoas acham que nosso lugar é servindo”, afirma. “O sotaque a gente não perde, e lidar com isso no ambiente corporativo foi um desafio, porque eu sou uma mulher negra e nordestina, então é como se [eu] não pertencesse àquele lugar, ou não fosse boa o suficiente.”

Como subsecretária na pasta de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jandaraci pôde ultrapassar os limites da Região Metropolitana. Ex-diretora do Banco do Povo Paulista, trabalhou junto ao pequeno empreendedor, ampliando o acesso ao crédito e ao desenvolvimento empresarial. “Falar do empreendedor daqui, é falar dos nossos nordestinos. Meu maior legado é minha competência, mostrar para as pessoas que sim, [São Paulo] é um lugar de grandes oportunidades. Quando você serve de referência, já começa a transformar”, diz.
Moradora da cidade desde 2003, Jandaraci elegeu a capital como seu lugar no mundo. “Minhas filhas se formaram aqui, nossa vida está acontecendo aqui e a gente está feliz. É a cidade que eu escolhi, e que me acolheu. Aqui em São Paulo, ou é neto de mineiro ou é filho de algum nordestino. Se você olhar as famílias, não é todo mundo que veio da Europa”, afirma.
‘São Paulo foi a minha primeira viagem’
Para os que fizeram o caminho da migração, agora ou há muitos anos, o CTN (Centro de Tradições Nordestinas), na Zona Norte de São Paulo, pode servir como um refúgio nos dias de saudade. Se um cheiro desperta o que se chama de memória afetiva, andar pelos 12 restaurantes presentes no espaço é capaz de transportar qualquer pessoa de volta para o Nordeste — nem que seja por alguns instantes. E, na cozinha d’O Cabra, ao contrário do que sugere o nome, quem conduz o tempero pelo caminho da lembrança é uma mulher: Ednalva Bressane, de 58 anos, ou apenas Nalva.
Natural de Poções, na Bahia, a chef chegou na capital paulista aos 16 anos, constituiu família, se lançou no mercado de trabalho como secretária e auxiliar administrativa, mas só chegou à cozinha em 2013, para trabalhar com a filha, que é a dona do restaurante. “Não tínhamos o público que temos hoje. Fui convidada para melhorar as receitas e acabei gostando. Em outros trabalhos eu era subordinada, hoje não sou subordinada a ninguém”, contou enquanto limpava camarões, ingrediente indispensável para o bobó, prato favorito da chef. “Chego a limpar 40 quilos na semana”, disse.
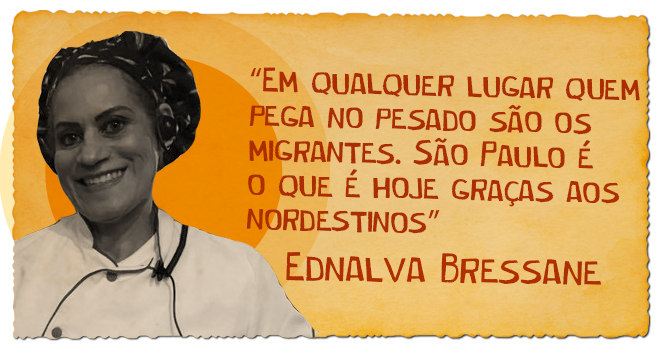
À frente d’O Cabra, Nalva cozinha para cerca de duas mil pessoas por final de semana. Mas o segredo para manter a clientela do restaurante, que é o maior do CTN, pouco tem a ver com um diploma. “Não fui à faculdade aprender. Agora que fiz um curso técnico”, revela a chef. “Costumo dizer que cozinho com o útero, com o coração, como se estivesse alimentando minha família. O legado que eu deixo é dar o meu melhor em tudo, sempre que faço uma coisa, é com o coração.”
O tempero e o cuidado com cada alimento foi peça fundamental para que o restaurante conseguisse se manter durante a pandemia. “A buchada, por exemplo, não tem como você comprar pronta. Você precisa saber o que fez, se está limpinho e escaldado”, explica. A dedicação já rendeu frutos e viagens incontáveis, dos quais a chef se orgulha: Estados Unidos, Grécia, Itália… “São Paulo foi a minha primeira viagem. Hoje meu lugar favorito é Roma. Sempre me senti muito bem acolhida aqui. É como se eu estivesse na minha cidade.”






